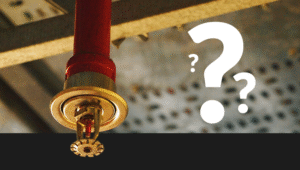- Origem e Evolução dos Corpos de Bombeiros ao longo dos tempos
A origem dos Corpos de Bombeiros remonta à origem do emprego do fogo pelo homem. Uma das primeiras organizações de combate ao fogo de que se tem notícia foi criado na Roma Antiga, quando a capital do Império Romano foi devastada por um grande incêndio no ano 22 a.C. Assim, o Imperador Otávio Augusto, em 27 a.C., formou um grupo de “vigiles”. Esses “vigiles” patrulhavam as ruas para impedir incêndios e também para policiar a cidade por meio de patrulhas. Este é o primeiro corpo organizado que se conhece na história, dedicado à função de bombeiro. Neste período da história, o fogo era um problema de difícil solução para os “vigílias”, que contavam com métodos insuficientes para a extinção das chamas.
Uma das normas mais antigas de proteção contra incêndios foi promulgada no ano de 872 em Oxford, no Reino Britânico, estabelecendo um toque de alerta, a partir do qual se deviam apagar todos os incêndios que estivessem ocorrendo naquele momento mais tarde.
Durante a Idade Média se tinha no incêndio um conceito relativo, considerando-o um dano inevitável. A partir do século XVI os artesãos se espalharam por toda Europa, numa modesta industrialização. Os incêndios foram mais frequentes e houve necessidade de combatê-los de forma prática. Mais tarde, na metade do século XVII, o material disponível para combate a incêndio se reduzia a machados, enxadões, baldes e outras ferramentas.
Um fato interessante da história é que em 1666, na Grã-Bretanha, já haviam brigadas de seguros contra incêndios, administradas por seguradoras, sem mais informações sobre o desenvolvimento dessas organizações na Europa até o grande incêndio em Londres, no mesmo ano, que destruiu grande parte da cidade e deixou milhares de pessoas desabrigadas. Antes do incêndio, Londres não dispunha de sistema organizado de proteção contra o fogo. Após isso, as companhias de seguro da cidade começaram a formar brigadas particulares para proteger a propriedade de clientes.
No século XVIII, surgiram as bombas de incêndio, fazendo com que se organizasse em Paris uma companhia de 70 guarda-bombas, uniformizados e remunerados, sujeitos à disciplina militar. Este foi uma das primeiras corporações organizadas de que se tem notícia, nos moldes dos sistemas atuais. Em pouco tempo todas as grandes cidades do mundo ocidental já possuíam, seja por disposição legal ou por iniciativa das companhias de seguros.
Em Boston – EUA, depois de um incêndio devastador que destruiu 155 edifícios e inúmeros barcos, houve em 1679 a fundação do primeiro Departamento Profissional Municipal contra Incêndios na América do Norte. A cidade importou da Inglaterra uma bomba contra incêndio, empregando um chefe e 12 bombeiros. Já em 1715 a cidade de Boston já contava com 6 companhias que dispunham de bombas d’água.
Na mesma época também eram organizados nas comunidades de Massachussetts sistemas de defesa contra o fogo, tais como exigências que em cada casa houvesse disponível 5 latas (tipo balde). Em caso de incêndio era dado alarme através dos sinos das igrejas e os moradores de cada casa passavam então a se organizarem em grandes filas, desde o manancial mais próximo até o sinistro, passando as latas de mão em mão. Aqueles que não ajudavam eram multados em até 10 dólares pelo chefe de bombeiros.
Com falta de organização e disciplina dos bombeiros voluntários, bem como a resistência à tecnologia que despontava com a introdução de bombas com motor a vapor, foi criada a organização dos departamentos profissionais contra incêndio, tendo-se registro que em 1º de abril de 1853, em Cinccinati, na cidade de Ohio, foi ativado o serviço de bombeiros com bombas a vapor em veículos tracionados por cavalos.
Anos mais tarde, também Nova Iorque substituía os bombeiros voluntários pelos profissionais que utilizavam estas bombas. As primeiras escolas de bombeiros surgiram em 1889, em Boston, e em 1914, em Nova Iorque, para transformação dos quadros profissionais de maiores e menores graduações.
Na época das 1ª e 2ª Guerras Mundiais, os corpos de bombeiros encontravam-se estruturados e atuavam em sistemas de dois turnos. Devido às necessidades, muitas vezes seguiam trabalhando para erradicar sinistros advindos de bombardeios, com jornada de até 24 horas, passando a tornar-se comum tal prática, trabalhando mais horas que outras categorias profissionais, e com isso consolidando-se esta situação, a partir de então.
- Origem e Evolução do Corpo de Bombeiros no Brasil
Fundado em 1565, por Estácio de Sá, o Rio de Janeiro passou a expandir-se e a aumentar sua importância no cenário nacional da época. Em agosto de 1710 o Corsário Francês Jean Françoeis Duclerc, em missão de guerra, empreendeu um ataque que causou a destruição total da alfândega do Rio de Janeiro, seguindo-se grande incêndio.
Em 1732, um grande incêndio de causa desconhecida destruiu considerável parte do Mosteiro de São Bento, próximo a atual Praça Mauá, que acabara de ser reconstruído.
Em 1788, em ofício datado de 12 de julho, o Vice-Rei Luís de Vasconcelos determinou que todos os cidadãos deveriam iluminar a frente de suas casas, a fim de evitar o “atropelamento”. O pânico era tanto que este causava mais vítimas do que o próprio fogo, pois o incêndio à noite gerava mais confusão devido à falta de iluminação pública.
Em 1789, outro grande incêndio destruiu completamente o Recolhimento da Nossa Senhora do Porto, causando profundo impacto junto à população e às autoridades. Na época os trabalhadores de extinção estavam a cargo do Arsenal da Marinha. Nessas ocasiões, corriam para os incêndios as milícias, aguadeiros e voluntários que combatiam empiricamente as chamas com os meios disponíveis, dificultando o trabalho, o tipo de construções com farto madeirame, arruamentos estreitos e irregulares. Quando irrompia à noite os incêndios vitimavam mais pessoas pela dificuldade de evacuação dos locais devido à precária iluminação existente.
O Arsenal da Marinha, que fora criado pelo Conde de Cunha, foi a repartição escolhida para extinguir os incêndios na cidade, tendo sido levado em conta a experiência que tinham os homens do mar em apagar o fogo em suas embarcações. Pela necessidade de dotar a cidade de sistema de combate mais organizado, o Alvará Régio de 12 de agosto de 1797, Título XII, determinou que o Arsenal da Marinha passasse a ser o órgão público responsável pela extinção de incêndio, em razão da experiência que os marinheiros possuíam em extinção de fogo nas embarcações, contando com treinamento e equipamento para tal. O Intendente do Arsenal determinava expressamente que “e terão sempre prontas as bombas, e todos os mais instrumentos necessários para se acudir prontamente não só aos incêndios da cidade, mas também aos do mar”.
Dessa época data o início do serviço de extinção de incêndios realizados por Órgão Público na cidade do Rio de Janeiro, isto é, em 12 de agosto de 1797.
Em 1808 foi criado o cargo de Inspetor do Arsenal, cabendo-lhe dirigir pessoalmente a extinção de incêndios na cidade, para isso levando as bombas, marujos, escravos e água. Outros incêndios seguiram, assim com conflitos de competência sobre a responsabilidade pelo comando das operações de combate a incêndios, chegando a sugestão de passar a responsabilidade ao Diretor de Obras Públicas, com pessoal próprio.
Sempre foram muito difíceis e limitados os recursos da população contra o fogo, que se expandiam rapidamente devido as construções serem ricas em madeira. O sinal de incêndio era dado pelos sinos das igrejas. Acorriam todos os aguadeiros com pipas, e também populares, que faziam longas filas até o chafariz julgado mais próximo, transportando de mão em mão os baldes de água, ao mesmo tempo em que se improvisavam escadas de madeira para efetuar salvamentos, retirando os moradores, antes que eles se atirassem.
- A Evolução dos Serviços de Bombeiro no Brasil
Sem dúvidas, o incêndio é uma das maiores catástrofes que podem ocorrer nas grandes cidades. E foram justamente estas catástrofes que assolaram a grande maioria dos conglomerados urbanos pelo mundo, ceifando vidas e criando a necessidade de dotar as cidades com serviços especializados para o combate a incêndio, desenvolvendo mundo afora os serviços de bombeiros, normalmente após um grande incêndio.
Também com o surgimento dessas instituições, surgiu a necessidade de material e de criar-se normas para manter a segurança contra incêndio nessas comunidades. Assim conclui-se que infelizmente os grandes incêndios urbanos tiveram papel preponderante no surgimento de instituições de bombeiros e no surgimento de novas normas relacionadas à segurança contra incêndio.
Os principais incêndios nos Estados Unidos da América serviram de aprendizado e mudanças para a área de incêndio.
O primeiro incêndio de destaque ocorreu em 30 de dezembro de 1903, aproximadamente um mês de abertura do Teatro Iroquois em Chicago e 32 anos após um incêndio que devastou a cidade. Supostamente seguro contra incêndios, o teatro tinha aproximadamente 1600 pessoas na platéia e o fogo vitimou 600 delas (sendo apenas um componente do grupo artístico e pessoal de apoio).
Como diversos incêndios já haviam ocorrido em teatros, tanto na Europa quanto nos EUA, sem a mesma magnitude, as precauções necessárias contra esse acidente eram conhecidas, mas não foram tomadas pelos proprietários do teatro. Constavam de tais precauções a presença de bombeiros com equipamentos extintores, esguichos e mangueiras etc., a participação de pessoas aptas a orientar ações de abandono, a existência de cortina de asbestos que isolasse o palco da platéia, a implantação de adequadas saídas devidamente desobstruídas (destrancadas), dentre outras. No Teatro Iroquois, algumas destas medidas não foram adotadas e outras não funcionaram a contento.
Outro incêndio de destaque foi o ocorrido na Casa de Ópera Rhoads situada em Boyertown, Pensilvânia, esse estabelecimento incendiou-se em 13 de janeiro de 1908, a partir da queda de uma lâmpada de querosene. Situava-se no 2º pavimento e as saídas estavam fora de padrão ou obstruídas. A estreita saída existente não foi suficiente e 170 pessoas morreram.
Em destaque também temos o incêndio na Escola Elementar Collinwood em Lake View, a maior tragédia ocorrida em ambiente escolar nos EUA se desenrolou em 4 de março de 1908, vitimando 172 crianças, 2 professores e uma pessoa que tentou socorrer as vítimas. Devastador, esse incêndio reforçou a consciência estadunidense sobre a necessidade de melhoria dos códigos, normas e dos exercícios de escape e de combate ao fogo.
O último incêndio de destaque ocorreu no Triangle Shirtwaist Factory em 25 de março de 1911, em Nova Iorque. O incêndio na indústria de vestuário, situada em um prédio elevado, o edifício Asch, causou a morte de 146 pessoas, em sua maioria jovens mulheres imigrantes, com menos de 18 anos de idade. Muitas delas se projetaram pelas janelas, outras pereceram nas escadas e corredores. Vinte e cinco minutos após o início do incêndio, os bombeiros da cidade o consideraram fora de controle e cerca de 10 minutos atingia toda a edificação. Os bombeiros somente atingiram o topo da edificação quase duas horas após o início do sinistro.
Quatro edições do “Manual de Proteção Contra Incêndios” (Handbook Fire Protection) haviam sido publicadas, com evoluções técnicas, até que surge aquele considerado marco divisório: a 5ª edição de 1914. A importância dessa edição decorre dos incêndios anteriormente citados, em especial do então recente incêndio com vítimas da Triangle Shirtwaist Company, que ampliou a missão da NFPA para a proteção de vidas, e não somente de propriedades.
Foi após esse incêndio que a NFPA criou o Comitê de Segurança da Vida (NFPA 101). A primeira publicação desse comitê é o texto “Sugestões para Organização e Execução de Exercícios de Incêndio”. O mesmo comitê, posteriormente, vai gerar indicações para a construção de escadas, de saídas de incêndio para o abandono de diversos tipos de edifícios, além da construção e disposição de saídas de emergência em fábricas, escolas etc., que até hoje constituem a base desse código.
Muito pela ausência de grandes incêndios e de incêndios com grande número de vítimas, o “problema incêndio”, até o início dos anos 70 do século passado, era visto como algo que dizia mais respeito ao corpo de bombeiros. A regulamentação relativa ao tema era esparsa, contida nos Códigos de Obras dos municípios, sem quaisquer incorporações do aprendizado dos incêndios ocorridos no exterior, salvo quanto ao dimensionamento da largura das saídas e escadas, da incombustibilidade de escadas e da estrutura de prédios elevados.
As corporações estaduais possuíam alguma regulamentação, advinda da área seguradora, indicando em geral a obrigatoriedade de medidas de combate a incêndio, como a provisão de hidrantes e extintores, além da sinalização desses equipamentos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT tratava do assunto por intermédio do Comitê Brasileiro da Construção Civil, pela Comissão Brasileira de Proteção contra Incêndio, regulamentando mais os assuntos ligados à produção de extintores de incêndio. Inexistia, por exemplo, uma norma que tratasse de saídas de emergência. Toda a avaliação e classificação de risco eram decorrência do dano ao patrimônio, sendo a única fonte reguladora dessa classificação a Tarifa Seguro Incêndio do Brasil – TSIB. Talvez possamos até afirmar que a situação do País era semelhante à dos EUA em 1911. E uma conclusão óbvia é a de que nosso País não colheu o aprendizado decorrente dos grandes incêndios ocorridos nos EUA ou em outros países. Inicia-se então a sequência de tragédias.
O maior incêndio em perdas de vidas no Brasil e a maior perda de vidas ocorridas em um circo no mundo aconteceram em 17 de dezembro de 1961, em Niterói, no Gran Circo Norte-Americano, tendo como resultado 250 mortos e 400 feridos. Vinte minutos antes de terminar o espetáculo, um incêndio tomou conta da lona. Em três minutos, o toldo, em chamas, caiu sobre os dois mil e quinhentos espectadores. A ausência dos requisitos de escape para os espectadores, como o dimensionamento e posicionamento de saídas, a inexistência de pessoas treinadas para conter o pânico e orientar o escape foram algumas causas da tragédia.
As pessoas morreram queimadas e pisoteadas. A saída foi obstruída pelos corpos amontoados. O incêndio teve origens intencionais e criminosas. Seu autor foi julgado e condenado e a tragédia teve repercussão internacional, com manifestações do Papa e auxílio dos EUA, que forneceram 300 m² de pele humana congelada para ser usada no tratamento das vítimas. A cidade de Niterói só voltou a ver um novo circo 14 anos depois da tragédia, em 1975.
Até dezembro de 1970, nenhum grande incêndio em edificações havia impactado a abordagem que o Poder Público e especialmente as seguradoras faziam do problema no Brasil. Era linguagem quase corrente que o padrão de construção em alvenaria, aliado à ocupação litorânea de área com alta umidade relativa do ar, se não impediam, ao menos minimizavam a possibilidade da ocorrência de grandes incêndios.
O incêndio na Ala 13 da montadora de automóveis Volkswagen, em São Bernardo do Campo, ocorrido em 18 de dezembro de 1970, consumindo um dos prédios da produção, com uma vítima fatal e com perda total dessa edificação, além de ser grande exemplo de novo tipo de conflagração, ocorrido em única edificação, que mostrou que a apregoada ausência de risco não passava de crença ingênua.
Em uma comparação, que reafirma o fato de não nos importarmos com os aprendizados e soluções, podemos destacar que em 12 de agosto de 1953, incendiaram-se as instalações da General Motors, em Livonia, Michigan, EUA. Pela incapacidade de penetrar nas instalações, totalmente tomadas pela fumaça, as perdas materiais foram totais. As perdas humanas contabilizaram 4 mortes e 15 pessoas ficaram seriamente feridas. Após esse incêndio, iniciaram-se os estudos para a implantação de sistemas de controle de fumaça. Ausentes nas instalações da Volkswagen, que somente começaram a ser realmente exigidos no Brasil a partir de 2001, na regulamentação do Corpo de Bombeiros de São Paulo.
O primeiro grande incêndio em prédios elevados ocorreu em 24 de fevereiro de 1972, no edifício Andraus, na cidade de São Paulo. Tratava-se de um edifício comercial e de serviços (Loja Pirani e escritórios), situado na Avenida São João esquina com a Rua Pedro Américo, com 31 andares, estrutura em concreto armado e acabamento em pele de vidro. Acredita-se que o fogo tenha começado nos cartazes de publicidade das Casas Pirani, colocados sobre a marquise do prédio. Do incêndio resultaram 352 vítimas, sendo 16 mortos e 336 feridos. Apesar de o edifício não possuir escada de segurança e a pele de vidro haver proporcionado uma fácil propagação vertical do incêndio pela fachada, mais pessoas não morreram devido à existência de instalações de heliponto na cobertura, o que permitiu que as pessoas que para lá se deslocaram permanecessem protegidas pela laje e pelos beirais do prédio. Muitos dali foram retirados por helicópteros, apesar de a escada do edifício está liberada para descida, as pessoas optaram por procurar abrigo no heliponto, por temerem retornar ao interior do edifício. Esse incêndio gerou a criação de Grupos de Trabalho, especialmente nos âmbitos da cidade e do Estado de São Paulo.
Com o passar do tempo, esses trabalhos foram perdendo o seu ímpeto inicial, e mesmo aqueles que conseguiram levar a termo suas tarefas, viram seus esforços caminharem para um processo de engavetamento dos projetos e proposições. Estudou-se a reestruturação do Corpo de Bombeiros, criando-se Comando de Corpo de Bombeiros dentro das Polícias Militares, pois, até então, com exceção do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e de Brasília, todos eram orgânicos à PM. A Prefeitura de São Paulo passou a estudar a reformulação de seu Código de Obras, oriundo de 1929 e atualizado em 1955. Apesar de muitos desses grupos haver concluído suas tarefas, indicando necessidades de reformulação, quer na legislação como no Corpo de Bombeiros (em especial de São Paulo), e sem que houvesse sido produzido ainda quaisquer efeitos, ocorre o segundo grande incêndio, o do Edifício Joelma.
Um dos marcos na história dos grandes incêndios no Brasil, talvez pela quantidade de vítimas fatais e pelo heroísmo dos bombeiros para salvar as pessoas presas pelas chamas naquele prédio, que sempre será lembrado pelos bombeiros brasileiros. Este edifício, também construído em concreto armado, com fachada tradicional, situa-se na Avenida 9 de julho, 22, na Praça da Bandeira, possuindo 25 andares de estacionamentos e escritórios.
Ocorrido em 1º de fevereiro de 1974, causou a morte de 179 pessoas, além de 320 feridos. O edifício, assim como o Andraus, não possuía escada de segurança. Nesse incêndio, como ocorrera no da Triangle Shirtwait Factory, pessoas se projetaram pela fachada do prédio, gerando imagens fortes e de grande comoção (a maior parte das pessoas que se projetou do telhado caiu em um pátio interno, longe das vistas da população). Muitos ocupantes do edifício morreram no telhado, provavelmente buscando um escape semelhante ao do edifício Andraus.
Somado ao incêndio do edifício Andraus, pela semelhança dos acontecimentos e proximidade espacial e temporal, o incêndio causou grande impacto, dando início ao processo de reformulação das medidas de segurança contra incêndios. Ainda durante o incêndio, o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo, munido dos dados que embasavam os estudos da reorganização desse Corpo de Bombeiros, revela à imprensa as necessidades de aperfeiçoamento da organização. Mostram-se, portanto, igualmente falhos e despreparados para esse tipo de evento, os poderes municipal e estadual. O primeiro por deficiências em sua legislação e por descuidar do Corpo de Bombeiros, pelo qual era responsável solidariamente com o Estado. O segundo pelas deficiências do Corpo de Bombeiros.
Mais uma vez o aprendizado do exterior não chegara ao nosso País. O que ocorreu a seguir parece um despertar, uma percepção de que os grandes incêndios, com vítimas, até então distantes, passam a ser entendidos como fatos reais, que nos atingem e que exigem mudanças.
O incêndio no Edifício Andorinhas, no Rio de Janeiro, teve uma particularidade, pois foi um dos primeiros transmitido ao vivo pela televisão, onde os telespectadores assistiram cenas chocantes de pessoas acuadas pelo fogo se atirarem do alto do prédio, pelas janelas, indo de encontro à morte. Morreram 21 pessoas e outras 50 ficaram feridas.
Logo após o incêndio do edifício Andraus, o então Ministério do Exército, por meio de sua Inspetoria Geral das Polícias Militares – IGPM, produziu as Normas de Orientação para a Organização das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, determinando que o corpo de bombeiros, inseridos nas Polícias Militares, fossem organizados em comandos e quadros de pessoal próprios.
Os comandos próprios foram criados em todo o Brasil e, a partir da Constituição Federal de 1988, essas organizações iniciaram o movimento de desvinculação das polícias, afastando-se da estrutura ligada ao Sistema de Persecução Penal, do qual não fazem parte. Até então, os únicos Corpos de Bombeiros desvinculados eram os do Rio de Janeiro e do Distrito Federal.
A Prefeitura de São Paulo editou seu Código de Obras em 1975 e avançou nas Medidas de Proteção contra Incêndio em seu novo Código de 1992. As regulamentações estaduais, iniciadas com o código do Rio de Janeiro, cresceram juntamente com a efetivação da autonomia do Corpo de Bombeiros nos Estados.
Em São Paulo, palco das tragédias desencadeadoras do processo evolutivo, uma legislação estadual somente surgiu em 1983 (Decreto nº 20811/83), sete anos após o Rio de Janeiro e quase nove anos após o incêndio do Edifício Joelma. A regulamentação de São Paulo ainda foi precedida por mais um incêndio em prédio elevado, ocorrido em 14 de fevereiro de 1981, no Edifício Grande Avenida, prédio esse localizado na Avenida Paulista, e que deixou saldo de 17 mortos, apesar de esse mesmo edifício haver passado por adaptações decorrentes de incêndio anterior. O Decreto nº 20811, de 11 de março de 1983, indica exigências de abrangência estadual de proteção contra incêndio quanto a saídas, compartimentação horizontal e vertical, além de sistemas de chuveiros automáticos, alarme/detecção, iluminação de emergência etc. Essas exigências, ainda em 1983, careciam de suporte em normas da ABNT, pela inexistência de normas para alarme, iluminação de emergência, chuveiros automáticos etc.
A regulamentação de São Paulo foi atualizada em 1993 (Decreto nº 38069/93), e novamente, com grande conhecimento técnico e sob novo modelo, em 2001 (Decreto nº 46076/2001).
Ocorridos em países vizinhos, recentemente dois incêndios merecem ser destacados, para servir de reflexão se algo semelhante pode acontecer no Brasil, para que providências sejam adotadas para evitá-los.
Em 1º de agosto de 2004, na cidade de Assunção, no Paraguai, começou um incêndio em supermercado da rede Yuca Bolaños. Eram 11h30 e no interior da edificação havia aproximadamente 900 pessoas. Do incêndio resultaram cerca de 350 mortos, 70 pessoas desaparecidas e quase 300 feridos. Materialmente a rede varejista perdeu toda a área do supermercado, com 6 mil m², e seu conteúdo. Testemunhas afirmam que portas do supermercado foram cerradas logo após o início do incêndio, aparentemente para se evitar furtos. Sem a menor dúvida, parte das saídas que se abria o estacionamento de veículos encontrava-se fechada quando da chegada do Corpo de Bombeiros. O incêndio atingiu temperaturas de cremação (aproximadamente 1000ºC). Iniciou-se sobre o forro, abaixo do teto, provavelmente pelo acúmulo de gordura e outros combustíveis nessa área. Tais combustíveis foram aquecidos pelo contato com o calor do duto de exaustão. A queima lenta sobre o teto acelerou-se quando ele faliu, provocando rápida expansão do fogo pelo acesso de oxigênio do ar.
Em 30 de dezembro de 2004, em Buenos Aires, um incêndio no Boliche República Cromagnon deixou 175 mortos, com 714 feridos, 102 deles em estado grave. No local encontravam-se aproximadamente 3 mil pessoas. Indica-se como a causa do incêndio o uso de fogo de artifício no interior da edificação, o qual teria inflamado o material de acabamento do teto. Houve problemas com as rotas de fuga, pois 4 das 6 portas de saída apresentavam alguma forma de bloqueio para evitar acesso gratuito de pessoas. A maioria das vítimas teve problemas por inalação de fumaça e gases aquecidos, com queimaduras nas vias aéreas.
Os incêndios citados foram escolhidos por ser recentes, haver ocorrido em países vizinhos e, especialmente, por ter atingido locais de reunião de público, nos quais a possibilidade de ocorrer vítimas ser potencialmente elevada. Entendemos que para os locais de reunião de público ainda não temos um controle efetivo das lotações, não fornecemos adequada informação a seus freqüentadores, para que eles possam sair em segurança e denunciar abusos, nem cuidamos adequadamente dos materiais de acabamento.
Esses incêndios apontam para uma medida de proteção contra incêndio essencial para essa ocupação, que falhou em ambos: o gerenciamento. Nos dois exemplos, os meios de escape existiam e estavam aparentemente bem dimensionados. Não foram utilizados em sua plenitude por ter sido fechados ou estar obstruídos. Outro destaque que entendemos essencial é deixar registrado no que diz respeito à ausência de dados e ensinamentos retirados de nossos incêndio, os ocorridos no Brasil. Modesta é a informação disponibilizada ao público, pelo Corpo de Bombeiros em especial sobre a causa deste ou daquele incêndio, com ou sem vítima, os mecanismos de propagação etc. Essas experiências, que ocorrem diariamente, infelizmente ainda se perdem pela ausência de sistemática investigação e divulgação.
No Estado de Goiás teve ao longo da história grandes incêndios, que marcaram o modo de operações, e como outros ocorridos pelo Brasil e no mundo, trouxeram algum tipo de benefício para a Corporação.
Um deles foi o Centro Administrativo do governo estadual, atual Palácio Pedro Ludovico Teixeira, localizado no centro da Capital, mais especificamente na Praça Cívica, teve os últimos andares incendiados. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio, sendo que os danos ficaram restritos a estes andares, e não se caracterizou como tragédia devido ao horário noturno e num feriado nacional (12 de outubro de 2000), portanto somente o pessoal da segurança estava presente, sendo que normalmente este prédio tem um público diário em mais de 1000 pessoas.
Em 5 de setembro de 2002 o incêndio na Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Pirenopólis, caracterizou-se por ser uma ocorrência em local tombado pelo patrimônio histórico nacional. A Igreja Nossa Senhora do Rosário tinha sido restaurada recentemente e teve toda a sua área queimada, sobrando somente as paredes que são feitas de taipa. Nessa época a unidade operacional sediada naquela cidade não dispunha de viatura de combate a incêndio, sendo que as viaturas empenhadas na ocorrência foram as das cidades de Anápolis e Goiânia.
Um incêndio ocorreu na indústria química Lutzol na região metropolitana de Goiânia, em 26 de agosto de 2002, que envolveu grande efetivo e testou a capacidade de atendimento da Corporação.
Uma empresa envasadora de GLP, localizada na época (6 de agosto de 2005) às margens da Rodovia BR-153, próximo a região residencial em Goiânia, foi um dos grandes incêndios no Estado de Goiás, pois levou pânico aos moradores das proximidades devido as inúmeras explosões de botijões de gás, arremessando-os a centenas de metros de distância.
Situada no sudoeste goiano, na cidade de Rio Verde, a Perdigão é uma das maiores unidades fabris do Estado de Goiás, teve incendiado uma parte de suas instalações em 21 de março de 2009. Nesse incêndio foi utilizada uma das principais ferramentas de controle e comando, que é o Sistema de Comando em Incidentes – SCI, com o uso coordenado de todos os recursos possíveis naquela época, inclusive com o uso da aeronave da Polícia Militar. O incêndio foi controlado e os danos ficaram restritos a aproximadamente 30% da empresa.
O Parque Altamiro de Moura Pacheco (Parque Ecológico de Goiânia), localizado entre os municípios de Goiânia, Goianopólis, Nerópolis e Teresopólis de Goiás, desde sua criação o parque passou por vários incêndios, que devido às suas características sazonalmente pega fogo (a cada dois ou três anos há uma grande incêndio no parque). Destacamos aqui o último ocorrido em 2010, que incendiou-se por volta das 12 horas de 11 de setembro, sendo que o trabalho de combate a incêndio perdurou por 3 dias. Nesta operação o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) empregou 17 viaturas e em média 79 militares por dia, com resultado da operação de 70% da área total do parque preservada.
O Parque Nacional das Emas, localizado nos municípios de Mineiros e Chapadão do Céu com área de 132642 há, o parque já passou por inúmeros incêndios, e devido às suas características sempre traz muita dificuldade nas operações de combate ao fogo. A última grande ocorrência naquele parque foi em 2010, com o incêndio iniciado em 12 de agosto, por volta das 19h, sendo que apenas no final do dia 16 de agosto foi controlado. Nesta operação o CBMGO contou com o apoio de pessoal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.
Entre em contato com a HS, clique aqui!
Conheça nossos curso na área de prevenção e combate a incêndio, clique aqui.